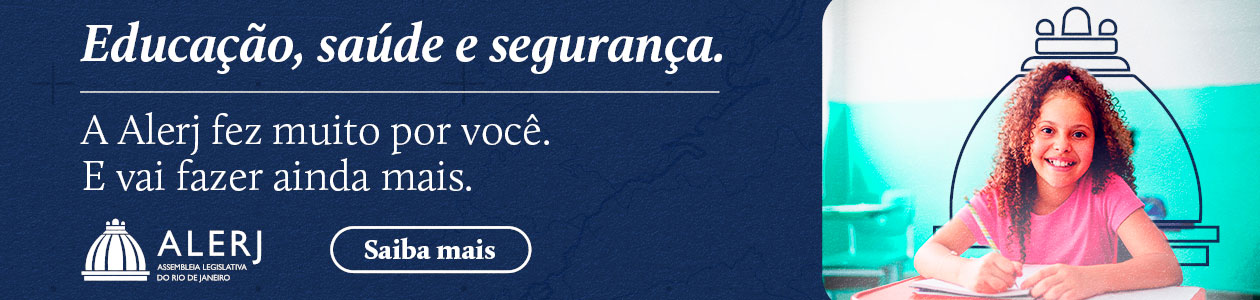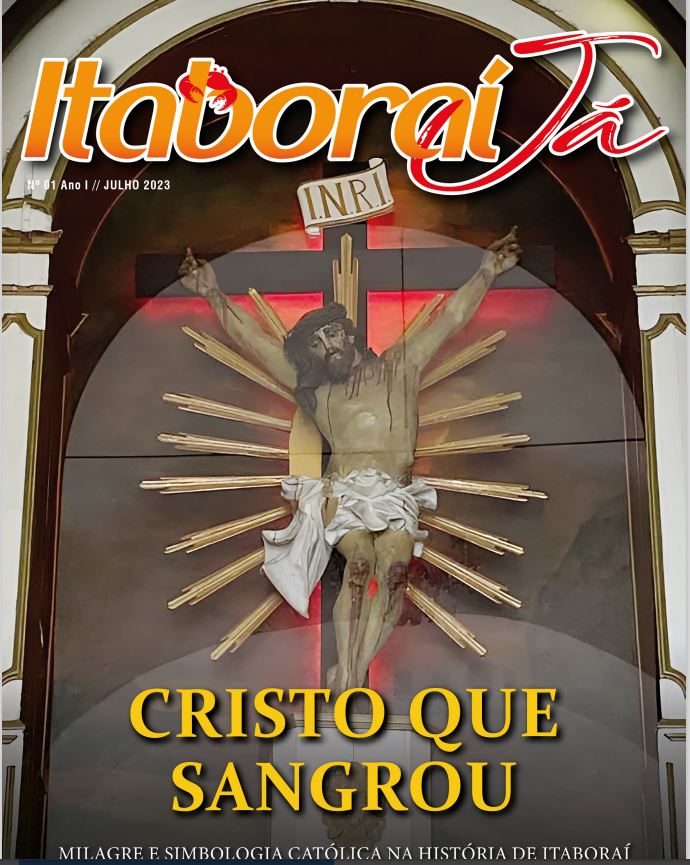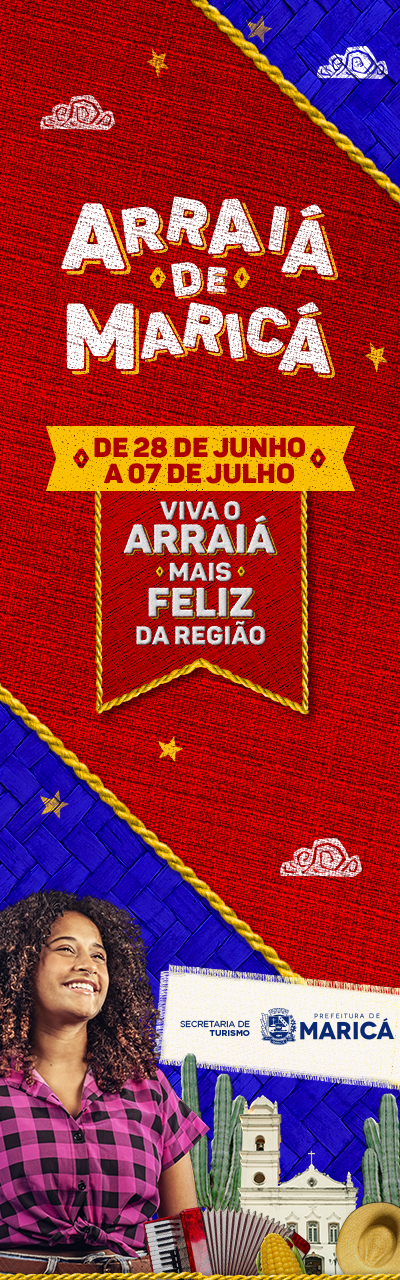um expoente da contribuição da Ordem Franciscana em Itaboraí (1649-1841)
Texto de Gilciano Menezes Costa
O Convento de São Boaventura foi erguido na Freguesia de Santo Antonio do Cassarabú (Caceribu) [1], nas terras doadas pelo Capitão João Gomes Sardinha e sua mulher Margarida Antunes [2], e teve sua fundação, segundo o Frei Apolinário da Conceição, iniciada no dia “vinte de novembro de mil seiscentos e quarenta e nove”, com a construção de uma Casa Provisória, que foi utilizada de morada para os frades durante a construção do convento [3].
Conforme demonstrou o Frei Antonio de Santa Maria Jaboatão, São Boaventura foi o quinto convento fundado dentro da Província da Imaculada Conceição e o décimo terceiro em território nacional. [4] No final do século XVII, a Ordem Franciscana no Brasil estava organizada em duas províncias: a de Santo Antonio e a da Imaculada Conceição [5]. Cabe ressaltar que a criação do Convento de São Boaventura é resultado, principalmente, da ação missionária dos franciscanos e da busca por lugares menos ameaçados a invasões estrangeiras.
De acordo com Frei Basílio Rower, a construção do convento começou em 1660 e “durou dez anos, pois foi só no dia 4 de fevereiro de 1670, (…) que a comunidade se transladou para a nova casa (…). Durou este convento 114 anos, pois em 1784 empreendeu-se a sua reconstrução (…)”, momento em que os franciscanos da Ordem Terceira “fizeram capela própria, separada da igreja conventual” [6].
A partir de 1784, o Convento de São Boaventura adquiriu as características arquitetônicas evidenciadas em suas atuais ruínas, tendo ao centro, a Igreja Conventual com a torre sineira em sua fachada; à esquerda, a Capela da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência; e à direita, o convento, como pode ser observado na primeira imagem, fotografada em 1925 e pertencente ao acervo do Mosteiro de São Bento.
Dos vinte e dois conventos franciscanos existentes até o século XVIII, apenas quatro possuíam noviciado, sendo o Convento de São Boaventura um deles. Seu funcionamento durou de 1672 a 1784. Algumas supressões ocorreram entre esses anos, o que fizeram com que o noviciado não funcionasse nos períodos de 1727 a 1750 e de 1764 a 1778. O Frei Basílio Rower considerou que o período de florescência do noviciado ocorreu entre os anos de 1750 a 1763, chegando a ter, em 1762, um total de vinte e cinco noviços. Ele argumentou que “foi nesse tempo que São Boaventura deu à província religiosos muito distintos.” Entre alguns desses personagens, destacaram-se Frei Antônio de Sant’Ana Galvão e Frei Mariano da Conceição Veloso [7].
Além do noviciado, funcionou também em São Boaventura Escolas Primárias, Seminário de Gramática e Casas de Estudo de Filosofia e Teologia. Dessa forma, o convento representou um dos primeiros espaços de ensino de Itaboraí e provavelmente do Leste do Recôncavo da Guanabara e do Vale do Macacu-Caceribu.
Um decreto do Marquês de Pombal, em janeiro de 1764, proibiu “a aceitação de noviços, por parte de ordens religiosas, sem que houvesse especial licença do governo”. Além disso, posteriormente foi “decretado o limite de número de noviços” que poderiam ser aceitos [8]. Possivelmente, essas medidas iniciaram a decadência do Convento de São Boaventura, embora ainda que de forma gradual, como pode ser observado com a sua própria reconstrução em 1784.
Considerar esse contexto, desenvolvido no âmbito de toda presença religiosa no Brasil, contribui para evitar o superdimensionamento de episódios locais como modelos explicativos para o fechamento do convento. Nesse sentido, vale destacar que embora as “Febres de Macacu” [9], em 1829, tenham sido um dos fatores de seu fechamento, tais febres não iniciaram os problemas da Ordem Franciscana em São Boaventura, mas sim, impulsionaram um quadro de crise já existente.
O missionário metodista Daniel Parish Kidder visitou o Convento, em 1837, e relatou que o “Convento de Santo Antônio” (Boa Ventura) [10]“era um grande edifício de imponente aparência externa, mas, bem mal-acabado por dentro”. Assinalou que existia “uma longa fila de dormitórios vazios”, um “velho órgão” e uma biblioteca composta por “um monte de velhos livros corroídos de traça, ao lado de algumas pilhas de manuscritos”. Citou que nas paredes laterais viam-se “diversas pinturas toscas, uma das quais parecia representar Cristo subindo da Cruz ao Céu (…)” [11].
Apesar do tom depreciativo sobre o espaço religioso estudado, sua narrativa contribui para visualizar o cotidiano dentro do convento nos anos próximos ao fechamento de suas portas, fato que ocorreu em julho de 1841. [12] Por essa narrativa foi possível constatar também a presença dos escravizados conventuais em São Boaventura [13]. Na segunda fotografia, pertencente ao acervo do IPHAN e realizada em 1952, é possível observar o estado de ruínas mais avançado em suas estruturas.
O convento foi cedido a uma Casa de Caridade, possivelmente, na década de 1850 [14]. Embora em estado de ruínas, os franciscanos foram seus proprietários até 1922, quando o venderam, junto com todo seu terreno ao redor, para a Abadia de Nossa Senhora do Monserrate do Rio de Janeiro. Essa propriedade, já com o nome de Fazenda Macacu e conhecida também como Fazenda Nossa Senhora das Dores de Macacu, ficou em posse da Ordem Beneditina até 1930 [15].
As ruínas do Convento de São Boaventura foram tombadas na esfera estadual em 1978 pelo INEPAC e na federal em 1980 pelo IPHAN, obtendo dessa maneira o reconhecimento legal de patrimônio material [16]. Atualmente essa edificação está sob a administração da Petrobrás e praticamente não há visitações da população a esse bem. A viabilização desse acesso, com os cuidados devidos de segurança e preservação dessas estruturas, representa uma enorme ferramenta para o desenvolvimento de uma percepção coletiva de valorização patrimonial e da História Local e, portanto, precisa se tornar uma realidade.

Bibliografia:
[1] Freguesia criada em dezembro de 1644 e elevada à vila, em cinco de agosto de 1697, com a denominação de Vila de Santo Antônio de Sá. José Matoso Maia Forte argumentou que essa freguesia foi “a primeira das criadas no recôncavo e, mais antiga do que ela, só se apontava a da Sé do Rio de Janeiro”. FORTE, José Matoso Maia. Vilas fluminenses desaparecidas: Santo Antônio de Sá. 1934:37.
[2] LISBOA, Baltazhar da Silva. Annaes do Rio de Janeiro. Tomo VII. RJ. 1835, p. 222.
[3] CONCEIÇÃO, Apolinário. Epítome da Província Franciscana da Imaculada Conceição no Brasil. RIHGB, Vol. 296, Julho-Setembro, 1972, p. 131.
[4] JABOATÃO, Antonio de Santa Maria. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Crônica dos Frades Menores do Brasil. IHGB, Livro I, 1858, p.200. Frei Basílio Röwer argumentou que o Convento de São Boaventura “foi o quinto na ordem cronológica de suas fundações”. Contudo, não explicitou que o convento foi o quinto construído na Província da Imaculada Conceição e não o quinto fundado no Brasil. ROWER, Frei Basílio. Páginas de História Franciscana no Brasil. Petrópolis, Vozes. 1941, p. 160.
[5] Conjunto de conventos que, preenchidos certos requisitos, constituem uma unidade com governo autônomo, dependente diretamente do geral na forma das constituições da Ordem Franciscana. TITTON, Gentil Avelino. A reforma da Província franciscana da Imaculada Conceição (1738-1740) (I). Revista de História, USP, nº 84, 1970. p. 312-315.
[6] ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., pp. 167 e 172; compreendendo o nível de dificuldade da construção do convento, o pesquisador Alberto Ribeiro Lamego apontou que “sua existência foi um “milagre” da pertinácia do colonizador em sua luta contra o brejo”. LAMEGO, Alberto Ribeiro. O Homem e a Guanabara. Rio de Janeiro: instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Conselho Nacional de Geografia, 1964, p. 197.
[7] Ibidem. p. 175-178. Frei Galvão foi canonizado pelo Papa Bento VI em 11 de maio de 2007, tornando-se, segundo as crenças da Igreja Católica, o primeiro santo nascido no Brasil. Frei Veloso era botânico e primo de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. CRUZ, LUIZ. O primo de Tiradentes. Revista de História, 2011.
[8] MIRANDA, Maria do Carmo Tavares de. Os Franciscanos e a Formação do Brasil. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1969, p. 92. O Marquês de Pombal foi um dos principais personagens da Coroa Portuguesa no período e tinha como uma de suas atribuições a administração da colônia no Brasil.
[9] Febres palustres que assolaram, na primeira metade do século XIX, as regiões próximas às margens do rio Macacu. Para o ano de 1829, a epidemia de malária gerou maiores danos para a população dessas localidades.
[10] O Convento de São Boaventura recebeu diversas denominações com o decorrer dos anos: no século XVIII, o Frei Jaboatão chamava de S. Boaventura de Casserebú e Frei Apolinário da Conceição de São Boaventura da Vila de Macacu; no século XIX, Baltazar da Silva Lisboa nomeia de S. Boaventura da Vila de Cassarabú e de S. Boaventura de Macacu e J.C.R. Milliet de Saint Adolphe, assim como Kidder, chama de Santo Antonio.
[11] KIDDER, Daniel Parish. Reminiscências de viagens e permanência no Brasil: Rio de Janeiro e província de São Paulo compreendendo notícias históricas e geográficas do Império e das diversas províncias. Brasília Senado Federal. 2001, p. 161-162.
[12] ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 183.
[13] COSTA, Gilciano Menezes. As relações escravistas no Convento de São Boaventura. Revista Tessituras, Nº6, Maio de 2015, p. 82-101. Disponível em: https://cutt.ly/historiadeitaborai_convento
[14] A arquiteta Ana Maria Moraes Guzzo argumentou que, “em 1855, (…) o convento foi cedido a uma Casa de Caridade,” discordando, dessa forma, do Frei Basílio Röwer, que mencionou o ano de 1835 como o momento em que ocorreu esse episódio. Embora não se tenha consenso dessa data, o fato é que a condição apresentada pelos franciscanos para essa concessão, era “de que os responsáveis reservassem uma cela para um representante da Ordem Franciscana”. GUZZO. Ana Maria Moraes. O Convento de São Boaventura de Macacu na arquitetura franciscana brasileira. 1999. Rio de Janeiro: PROARQ – FAU / UFRJ. Dissertação de mestrado, p. 115.
[15] Além da Fazenda Macacu, os Beneditinos também foram proprietários da Fazenda Escurial em Porto das Caixas. Para saber mais ver: Inventário dos bens imóveis de interesse histórico e artístico do estado do Rio de Janeiro. INEPAC.
[16] Tombado na esfera Estadual em 1978 (processo E-03/33.714/78), na Federal em 1980 (processo nº 690-t-63, inscrição nº 476, Livro Histórico, H. 81, inscrição nº 540, Livro de Belas Artes, vol. 2, nº, iniciado em 28/04/1980) e na Municipal em 1995 (lei 1.305).

Gilciano Menezes Costa é formado em História pela UFF, com Mestrado e Doutorado pelo PPGH-UFF. Professor de História, Filosofia e Sociologia na rede estadual de ensino em Itaboraí. Idealizador do projeto História de Itaboraí e Região.